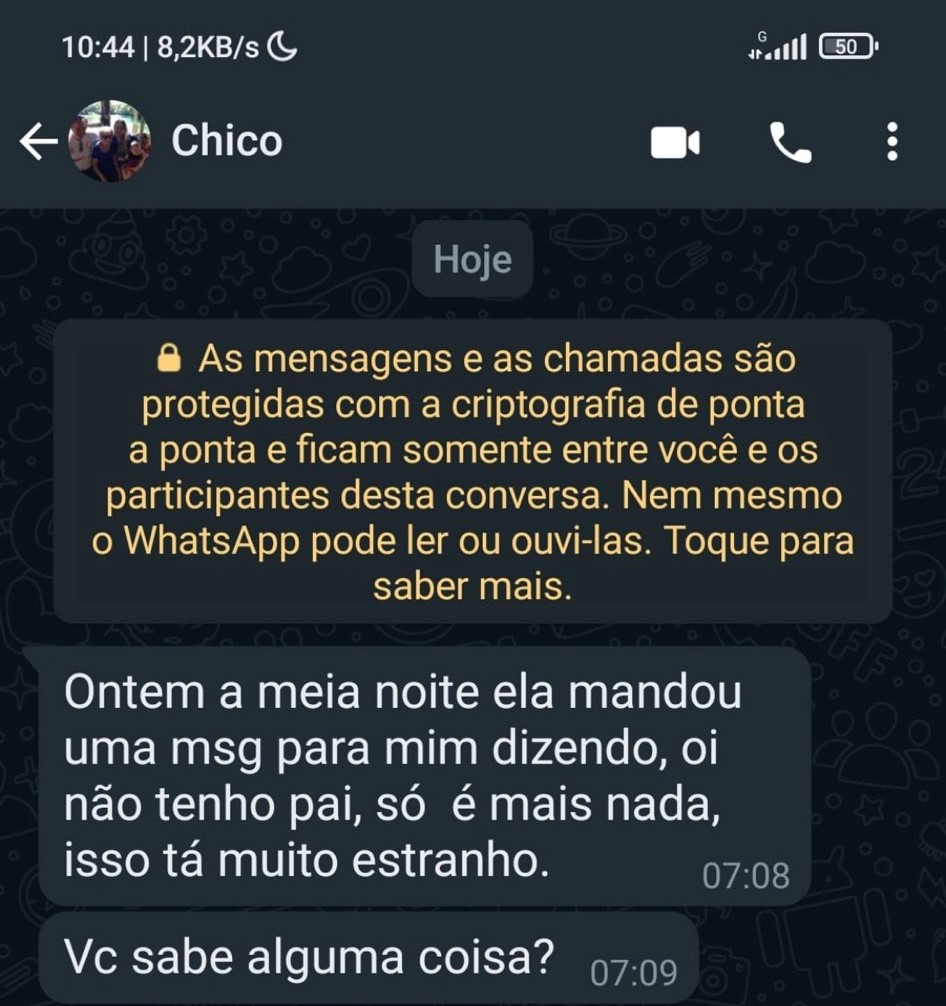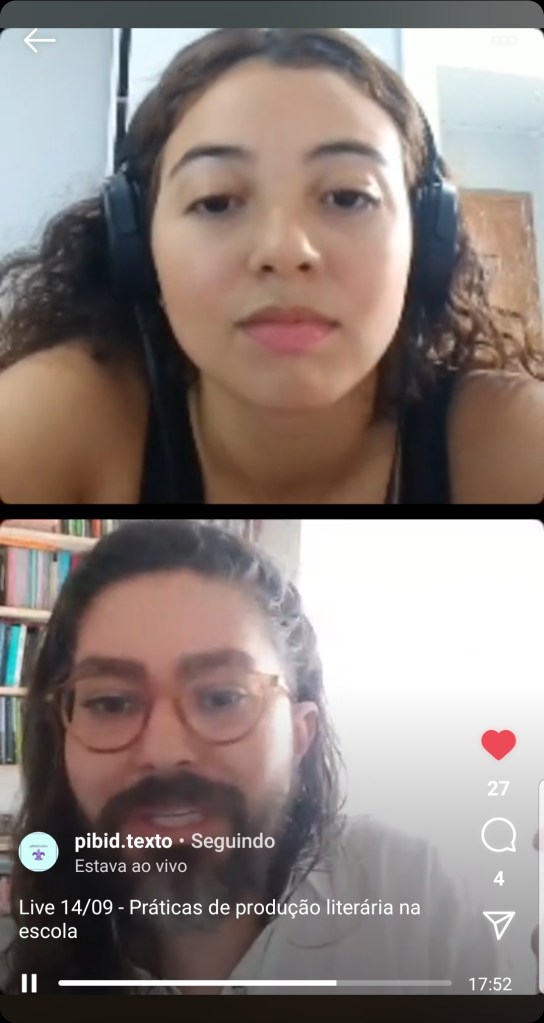Traduzi em 2019 essa crônica de Alejandro Zambra, que abre o livro No leer: Crónicas y ensayos sobre literatura (2018), para trabalhar em sala de aula com meus alunos do ensino médio. Zambra estudou no Instituto Nacional, uma escola pública antiga e prestigiada no Chile, semelhante ao Colégio Pedro II, onde dou aula. O texto, que eu saiba, é inédito em português até hoje, 26 de outubro de 2021.
Ainda me lembro da tarde em que a professora de espanhol virou para o quadro e escreveu as palavras prova, próxima, sexta-feira, Madame, Bovary, Gustave, Flaubert, francês. A cada palavra aumentava o silêncio e no fim somente se escutava o triste rangido do giz. Nós já tínhamos lido romances grossos, quase tão grossos quanto Madame Bovary, mas dessa vez o prazo era impossível: tínhamos apenas uma semana para enfrentar um romance de quatrocentas páginas. Começávamos a nos acostumar, no entanto, a essas surpresas: acabávamos de entrar no Instituto Nacional, tínhamos doze ou treze anos, e já sabíamos que a partir daí todos os livros seriam grossos.
Assim nos ensinaram a ler: à força. Ainda penso que os professores não queriam nos entusiasmar e sim nos convencer, nos afastar para sempre dos livros. Não gastavam saliva falando sobre o prazer da leitura, talvez porque eles tinham perdido esse prazer ou nunca o tinham experimentado realmente: supõe-se que eram bons professores, mas naquele tempo ser bom não era muito mais do que conhecer os manuais.
Como no poema de Parra, os professores vinham loucos com perguntas nada a ver. Mas em pouco tempo já conhecíamos seus truques ou tínhamos truques próprios. Em todas as provas, por exemplo, tinha uma questão de identificação de personagens, que envolvia típicos personagens secundários: quanto mais secundário fosse o personagem maior a possibilidade de nos perguntarem sobre ele, e assim gravávamos os nomes desanimados mas também com a alegria de garantir uma pontuação na prova.
Tinha certa beleza nesse gesto, pois na época éramos justamente isso, personagens secundários, centenas de crianças que cruzavam a cidade equilibrando apenas as mochilas de brim. Os vizinhos do bairro viam o peso e faziam sempre a mesma piada: parece que carrega pedras na mochila. O centro de Santiago nos recebia com bombas de gás lacrimogêneo, mas não levávamos pedras e sim tijolos de Baldor ou de Ville ou de Flaubert.
Madame Bovary era um dos poucos romances que havia na minha casa, então nessa mesma noite comecei a lê-lo, seguindo o método de urgência que tinha me ensinado meu pai: ler as duas primeiras páginas e em seguida as duas últimas, e só então, só depois de saber o começo e o final do romance, continuar lendo sem parar. Se não conseguir terminar, pelo menos já sabe quem é o assassino, dizia meu pai, que pelo que parece só tinha lido livros em que havia algum assassino.
A verdade é que não avancei muito mais na leitura. Gostava de ler, mas a prosa de Flaubert simplesmente me fazia cochilar. Por sorte encontrei, no dia anterior à prova, uma cópia do filme numa locadora em Maipú. Minha mãe tentou me impedir de ver, pois pensava que não era adequado para minha idade, e eu também pensava ou na verdade esperava isso, pois Madame Bovary parecia pornô, todo o francês parecia pornô. O filme era, nesse sentido, decepcionante, mas o vi duas vezes e enchi as folhas de ofício por todos os lados. Tomei nota vermelha, apesar disso, tanto que durante muito tempo associei Madame Bovary a esse vermelho e ao nome do diretor do filme, que a professora escreveu com ponto de exclamação junto com a nota baixa: Vincente Minnelli!
Nunca mais confiei nas versões cinematográficas e desde então acredito que o cinema mente e a literatura não (mas não tenho como demonstrar isso, é claro). Li o romance de Flaubert muito tempo depois, e costumo relê-lo mais ou menos na época do primeiro resfriado do ano. Não é misteriosa a mudança de gosto, pois coisas parecidas acontecem na vida de qualquer leitor. Mas é um milagre que tenhamos sobrevivido a esses professores, que fizeram todo o possível para nos mostrar que ler era a coisa mais chata do mundo.
Maio, 2009.
Fonte: ZAMBRA, Alejandro. No leer: Crónicas y ensayos sobre literatura. Barcelona: Editorial Anagrama, 2018.