As imitações absurdas do período das independências pautavam-se em uma civilização Nescafé: podíamos ser instantaneamente modernos abolindo o passado, negando a tradição. O gênio de Machado reside exatamente no contrário. Sua obra é permeada por uma convicção: não existe criação sem tradição que a nutra, assim como não existe tradição sem criação que a renove. Mas Machado tampouco contava com o respaldo de uma grande tradição novelesca, nem brasileira nem portuguesa. Contava, sim, com a tradição comum a nós, os hispanófonos do continente; contava com a tradição de La Mancha. Machado recuperou-a; nós a esquecemos. Mas ela também não foi esquecida pela Europa pós-napoleônica, a Europa do grande romance realista e de costumes, psicológico ou naturalista, de Balzac a Zola, de Stendhal a Tolstói? E nossa pretensão de modernidade não foi, em toda a Ibero-América, reflexo dessa corrente realista que chamarei de Waterloo, em contraposição à corrente de La Mancha? Em seu livro “A Arte do Romance”, Milan Kundera lamentou, mais do que ninguém, a mudança de rumo que interrompeu a tradição cervantina -retomada por seus maiores herdeiros, o irlandês Laurence Sterne e o francês Denis Diderot- em favor da tradição realista, que Stendhal descreve como o reflexo captado por um espelho avançando ao longo de uma estrada e que Balzac confirma como o concorrente do registro civil. E o convite ao jogo, ao sonho, ao pensamento, ao tempo, exclama Kundera em um capítulo intitulado “A Desprezada Herança de Cervantes”, onde foi parar? A resposta é, se não miraculosa, surpreendente: foram parar no Rio de Janeiro e renasceram na pena de um mulato carioca pobre, autodidata, que aprendeu francês em uma padaria, que sofria de epilepsia, como Dostoiévski, que era míope, como Tolstói, e que ocultava seu gênio sob um corpo tão frágil como o de outro grande brasileiro, Aleijadinho, também mulato, mas além disso leproso, que trabalhava sozinho e somente à noite, para não ser visto. Mas alguém já não disse, falando do Brasil, que o país cresce à noite, enquanto os brasileiros dormem? Machado não. Ele está bem desperto. Sua prosa é meridiana. Mas também seu mistério: um mistério solar, o de um escritor americano de língua portuguesa e raça mestiça que, solitário como uma estátua barroca mineira do realismo oitocentista, redescobre e reanima a tradição de La Mancha contra a tradição de Waterloo. O que entendo por essas duas tradições?
La Mancha e Waterloo
Historicamente, a tradição de La Mancha é inaugurada por Cervantes como um contratempo da modernidade triunfante, um romance excêntrico da Espanha contra-reformista, obrigado a fundar outra realidade por meio da imaginação e da linguagem, da ironia e da mescla de gêneros. Essa tradição é continuada por Laurence Sterne (1713-1768) com seu “Tristram Shandy”, em que o acento recai sobre o jogo temporal e a poética da digressão, e por “Jacques o Fatalista”, de Denis Diderot (1713-1784), em que a aventura lúdica e poética consiste em oferecer, quase que em cada linha, um repertório de possibilidades, um menu de alternativas para a narração.
A tradição de La Mancha é interrompida pela tradição de Waterloo, isto é, pela resposta realista à saga da Revolução Francesa e do império de Bonaparte. A mobilidade social e a afirmação individual servem de inspiração para Stendhal, cujo Sorel lê em segredo a biografia de Napoleão, para Balzac, cujo Rastignac é um Bonaparte dos salões parisienses, e para Dostoiévski, cujo Raskolnikov tem um retrato do grande corso como único adorno de sua mansarda petersburguesa. Romances críticos, é bem verdade, daquilo que os inspira: iniciadas com o crime de Sorel, as carreiras ascendentes da sociedade pós-bonapartista culminam com a falsa glória do arrivista Rastignac e terminam com o crime e a miséria de Raskolnikov.
Entre as duas tradições, Machado de Assis, nascido em 1839 e morto em 1908, revalida a tradição interrompida de La Mancha e permite-nos contrastá-la, de modo muito geral, com a tradição dominante de Waterloo.
A tradição de Waterloo afirma-se como realidade. A tradição de La Mancha sabe-se ficção e, mais ainda, celebra-se como ficção.
Waterloo oferece fatias de vida. La Mancha não tem outra vida afora a de seu texto, feito à medida em que é escrito e é lido.
Waterloo surge do contexto social. La Mancha descende de outros livros.
Waterloo lê o mundo. La Mancha é lida pelo mundo. Waterloo é séria. La Mancha é ridícula. Waterloo baseia-se na experiência: diz o que já sabemos. La Mancha baseia-se na inexperiência: diz o que ignoramos. Os atores de Waterloo são personagens reais. Os de La Mancha, leitores ideais. E, se a história de Waterloo é ativa, a de La Mancha é reflexiva. Tais divisões teóricas podem mostrar-se rígidas, mas as obras mesmas são muito mais fluidas. Por exemplo, uma das características mais notáveis da narração cervantina, a loucura da leitura, origem da ação de “Dom Quixote”, transcende para o plano realista em um romance como “A Abadia de Northanger”; por exemplo, parte da comédia social inglesa de Jane Austen, cuja protagonista, Catherine Moorland, perde o juízo lendo romances góticos; por exemplo, e sobretudo, uma das obras-primas do realismo psicológico, “Madame Bovary”, em que a heroína de Flaubert perde o equilíbrio entre sua realidade social e sua realidade psicológica por ler obras românticas em demasia. E tanto Sorel como Raskolnikov, como já assinalei, são o que são por terem devorado demasiadas páginas sobre a epopéia napoleônica. Mais especificamente, manchego é o fato de um romance saber-se ficção, ser consciente de sua natureza fictícia. “Dom Quixote”, “Tristram Shandy”, “Jacques o Fatalista”, “Brás Cubas”, além de se saberem ficção, celebram sua gênese fictícia. É Dom Quixote em um lugar de La Mancha de cujo nome não quer se lembrar, mas também em uma tipografia de Barcelona em que o personagem de Cervantes visita o lugar mesmo onde sua vida se faz livro, pois Dom Quixote é o primeiro personagem do romance moderno que se sabe escrito, impresso e lido, assim como Tristram Shandy sabe-se escrito por si mesmo, como Brás Cubas sabe que também está sendo escrito por si mesmo, e não por qualquer Brás Cubas, mas por um Brás Cubas morto, que escreve suas memórias no túmulo. Brás Cubas, além disso, pede ser inscrito em uma tradição, a do leitor de “Tristram Shandy”, só que Tristram Shandy, por sua vez, quer-se da tradição de “Dom Quixote”. “Adotei” -diz Brás Cubas do túmulo- “a forma livre de um Sterne”. E Sterne diz, no “Tristram Shandy”, que tomou sua forma “do incomparável cavaleiro de La Mancha, a quem, seja dito de passagem, eu amo mais, a despeito de todas as suas sandices, do que ao maior dos heróis da Antiguidade e por quem mais longe eu iria para fazer uma visita”.




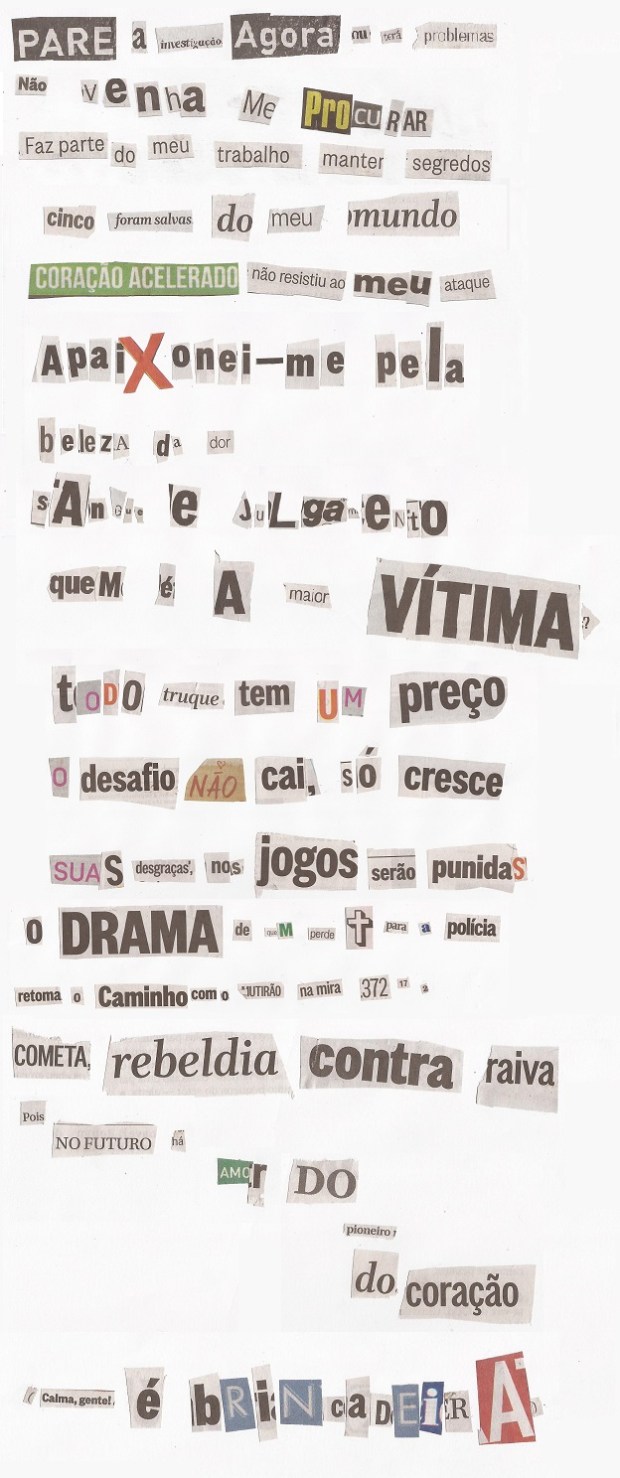



 Literatura na Educação Infantil é um curso de extensão voltado para professores do ensino básico, coordenadores pedagógicos, bibliotecários e profissionais de educação em geral que será ministrado pelas professoras Ana Ribeiro e Maria Marta Cerqueira, da Escola Oga Mitá, que oferece o curso. Para quem trabalha ou deseja trabalhar com educação infantil, recomendo muito. O curso acontecerá aos sábados, nos dias 27/9 e 11/10, das 9h às 13h.
Literatura na Educação Infantil é um curso de extensão voltado para professores do ensino básico, coordenadores pedagógicos, bibliotecários e profissionais de educação em geral que será ministrado pelas professoras Ana Ribeiro e Maria Marta Cerqueira, da Escola Oga Mitá, que oferece o curso. Para quem trabalha ou deseja trabalhar com educação infantil, recomendo muito. O curso acontecerá aos sábados, nos dias 27/9 e 11/10, das 9h às 13h.